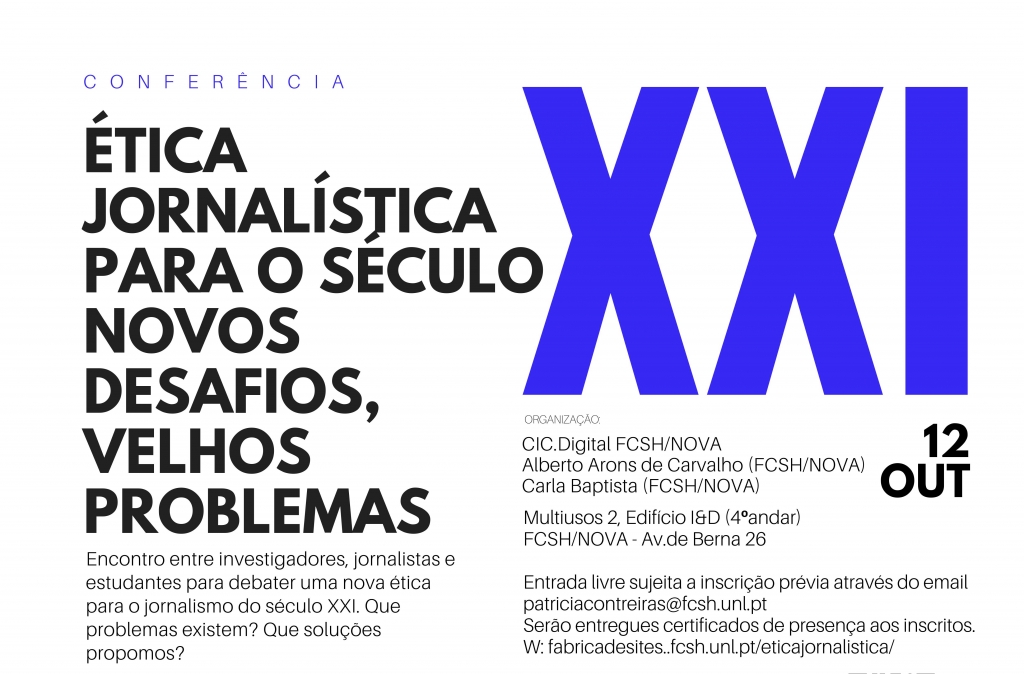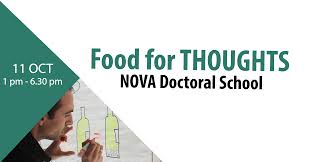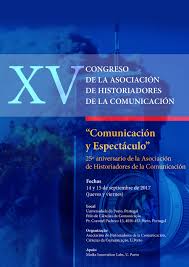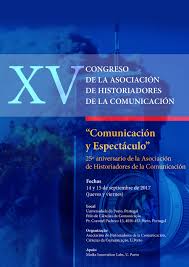 Vários investigadores do CIC.DIGITAL participaram no congresso da Asociación de Historiadores de la Comunicación (AHC), que decorreu de 14 a 15 de setembro de 2017, na Universidade do Porto. Ao todo foram apresentadas 7 comunicações de investigadores associados ao centro.
Vários investigadores do CIC.DIGITAL participaram no congresso da Asociación de Historiadores de la Comunicación (AHC), que decorreu de 14 a 15 de setembro de 2017, na Universidade do Porto. Ao todo foram apresentadas 7 comunicações de investigadores associados ao centro.
O CIC.DIGITAL tem participado ativamente nos congressos da AHC, uma das mais importantes associações de investigadores na área de media em Espanha.
Carla Baptista, coordenadora do grupo de Estudos dos Media e do Jornalismo da mesma unidade, explicou as várias etapas da vida profissional de Hermano Neves (1884-1929), com destaque para as suas prolongadas colaborações com os jornais diários O Século, Mundo e A Capital. Embora seja considerado um dos grandes jornalistas do seu tempo, não mereceu ainda o reconhecimento devido.
Existem alguns textos evocativos, a maioria inspirados pelo filho, outro jornalista de grande talento (Mário Neves) e um perfil de homenagem, escrito pelo jornalista e discípulo Norberto Lopes, salientando as qualidades do repórter (Hermano Neves, A Arte da Grande Reportagem, 1985). Nesta comunicação fez-se o levantamento das principais etapas da vida profissional de Hermano Neves, com destaque para as suas prolongadas colaborações com os jornais diários O Século, Mundo e A Capital. Recorrendo a pesquisa em arquivo (arquivos pessoais e hemeroteca), situamos o percurso de Hermano Neves em articulação com as convulsões politicas e sociais do tempo em que viveu. A sua vivência do jornalismo é indissociável da paisagem politica do republicanismo, tendo sido testemunha dos principais acontecimentos desse tempo histórico (começando pela revolução de 5 de Outubro, passando pelas várias tentativas de restauração monárquica, pela participação portuguesa na I Guerra Mundial e pelo golpe militar de 1926, altura em passou a escrever apenas na imprensa clandestina). Experimentou quase todos os “lugares” da profissão, desde repórter, redactor, critico, correspondente no estrangeiro e repórter de guerra. Escreveu livros, quase todos compilações de textos jornalísticos, dirigiu panfletos (o Fora da Lei) e fundou jornais (A Vitória). Ajudou a formar o sindicalismo jornalístico e a criar uma consciência profissional, tendo reflectido sobre os valores e os limites da profissão em vários dos seus textos publicados em jornais, mas ainda dispersos. O seu contributo reflecte e amplia, pela qualidade, experimentação e inovação, os valores do jornalismo do início do século XIX: ainda herdeiro das disputas políticas e literárias do século XIX, culto e erudito, mas já apontando para um território mais profissionalizado, buscando as convenções narrativas do jornalismo moderno e procurando extrair sentido das convulsões do mundo contemporâneo. Hermano Neves brilhou em vários géneros jornalísticos: na reportagem, entrevista, perfil, crónica e artigo. Assinalamos os principais marcos nestes géneros, traçando a biografia do jornalista que viveu a sua profissão como um prolongamento da sua intervenção cívica, politica e literária.
“O espetáculo da informação visual: A gravura de madeira e a cobertura gráfica dos acontecimentos nas revistas ilustradas portuguesas (1840-1900)” foi o título da comunicação do docente e investigador Jorge Pedro Sousa.
No século XIX, recorrendo a gravuras de madeira, as revistas ilustradas foram atores centrais e pioneiros na cobertura gráfica dos assuntos e acontecimentos da atualidade, particularmente na segunda metade do século. A representação visual do mundo patente nas revistas ilustradas foi-se alargando, nessa altura, dos temas habituais da natureza, do património e das personalidades das elites políticas, militares e artísticas aos espetáculos, às cerimónias públicas, à moda, às guerras, aos crimes, aos acidentes e ao desporto. Os gravadores contaram-se entre os primeiros produtores regulares de iconografia informativa e, num certo sentido, entre os primeiros “jornalistas de imagem”. Tentamos demonstrar, analisando as gravuras sobre assuntos e acontecimentos da atualidade produzidas em Portugal e difundidas pelas revistas ilustradas portuguesas entre 1840 e 1900, que esses manufatureiros de informação visual cultivaram padrões estéticos realistas e naturalistas de representação da realidade visível. Num contexto dominado por doutrinas como o positivismo e o materialismo, pela solidificação de uma “cultura dos factos” cientificista e pela estandardização da produção trazida pela Revolução Industrial; incorporando, na sua praxis, o cultivo da “verdade”, valor importado da historiografia e transmitido ao jornalismo desde a Modernidade, os gravadores guiaram-se, na cobertura gráfica da atualidade, pela intenção de verdade, presenciassem ou não os acontecimentos que transpunham para as gravuras. Ou seja, os gravadores procuraram adequar iconicamente as gravuras às realidades representadas, tendo em vista a redução da ambiguidade na atribuição de significados aos assuntos e acontecimentos da atualidade durante o ato de leitura. Criaram, pois, o que se pode considerar uma objetividade visual pragmática, fundada numa interpretação gráfica holística, naturalista e realista dos temas da atualidade, predominantemente narrativa (e mais raramente conceptual), mas composicionalmente guiada por padrões expressivos e estéticos importados da pintura. Essa proximidade às belas-artes, campo do qual os gravadores eram originários, promoveu a sua autorrepresentação como “artistas” e não como “jornalistas” nem como “repórteres”. Assim, embora aceitassem, na sua praxis rotineira e quotidiana, o papel de agentes “técnicos” de transposição realista e naturalista de relatos orais ou escritos, fotografias e desenhos para gravuras de madeira, os gravadores, por vezes, praticaram liberdades expressivas e estéticas mais conotáveis com a arte do que com o jornalismo. Logo, ocasionalmente, no domínio da modalidade, alguns gravadores afastaram, em certos pormenores, as imagens que produziam da realidade, sobretudo por meio da supressão ou adição de elementos ou pelo sacrifício do conteúdo à composição, sem que, no entanto, a sua ação afetasse a intenção de representar holisticamente os temas da atualidade fundando-se em abordagens realistas e naturalistas dos mesmos e, quase sempre, na narração visual de acontecimentos. A sua prática contribuiu, também, para a emergência de novos géneros jornalísticos, caracterizados pela junção de imagens às palavras, assumindo a palavra, em determinadas circunstâncias, somente o papel de complemento ao texto visual. A reportagem gráfica, caracterizada pela multiplicação de imagens e, portanto, de diferentes perspetivas sobre um assunto da atualidade, expandiu-se pelas revistas ilustradas, contribuindo para reforçar a sua identidade entre os dispositivos jornalísticos.
“O rádio como veículo do mundo e objecto de espectáculo: uma análise exploratória da publicidade aos aparelhos de rádio em Portugal (1929-1965)” foi o título da comunicação de Cláudia Henriques, investigadora do CIC.Digital Pólo FCSH e doutoranda de Estudos de Comunicação – Tecnologia, Cultura e Sociedade (dout. FCT).
A autora parte de uma recolha de anúncios de imprensa a aparelhos de rádios para, através deles, analisar o discurso publicitário sobre o objecto tecnológico e apurar a representação que este tipo de discurso faz dos receptores de rádio.
Desmontando este discurso publicitário a investigadora pretende aceder à representação social e cultural que a publicidade opera sobre o meio rádio. Ou seja, o foco não é a tecnologia ou as características técnicas dos objectos, e muito menos a actividade publicitária per se; procura-se, antes, lançar um primeiro olhar sobre os usos sociais e o imaginário associado à rádio que são “vendidos” pelos anunciantes.
Através da recolha e análise de mais de 200 anúncios publicitários extraídos da imprensa diária (Diário de Lisboa, Diário de Notícias e O Século) e semanal (O Século Ilustrado), entre 1929 e 1965, percebemos como a imagem publicitária aplicada à rádio, num contexto de incremento do consumo, chama a si conceitos como o de “sociedade do espectáculo” de Guy Debord. Esta linguagem publicitária anuncia uma rádio que, sendo um “meio cego”, nem por isso deixa de, a partir da familiaridade do lar, colocar o mundo à disposição do ouvinte, através de peças teatrais, programas musicais ou noticiários. A rádio é, pois, instrumento de espectáculo. Com o aparecimento do transístor, a nanização dos objectos, a diminuição de preço e a possibilidade de os levar para qualquer lugar, o espectáculo que a rádio proporciona galga as fronteiras do lar e inscreve-se numa progressiva individualização do consumo. O espectáculo ganha o sentido de portatibilidade do objecto e segue o ouvinte para onde ele for.
A comunicação de Sílvia Torres, teve como destaque “Fernando Farinha e a Guerra Colonial Portuguesa: o soldado-repórter “a bem da Nação”.
Numa fase inicial, a Guerra Colonial – luta travada entre as forças armadas portuguesas e as forças organizadas por vários movimentos de libertação de Angola, da Guiné Portuguesa e de Moçambique – chegou à imprensa portuguesa, da metrópole e das províncias ultramarinas, através de comunicados oficiais, com reduzidas e parciais informações sobre o conflito. Fernando Farinha não se contentou com esta informação oficial e com os relatos que recolhia, em Luanda, entre vítimas da guerra e, ainda em 1961, partiu para o teatro de operações e estreou-se como repórter de guerra. Até 1974, noticiou o conflito, inicialmente através do jornal diário O Comércio e depois da revista semanal Notícia, ambos de Luanda (Angola).
Fernando Farinha fez a cobertura jornalística da guerra nas três frentes – Angola, Guiné Portuguesa e Moçambique (então províncias ultramarinas portuguesas) – e ao longo dos 13 anos que o conflito durou. Como enviado especial ao serviço d’O Comércio e da Notícia tornou-se perito em assuntos militares e, principalmente em Luanda, era conhecido por “jornalista soldado”. “Meti-me na guerra de tal maneira que, a certa altura, já não era eu que ia à guerra, era a guerra que vinha ter comigo”, diz hoje Fernando Farinha, já reformado, a residir em Lisboa.
O jornalista soldado foi um repórter parcial e voluntário que se tornou afamado por corajosamente noticiar o conflito. Foi protagonista das próprias reportagens e chegou também a ser notícia por noticiar a guerra. Fernando Farinha foi também vítima da censura, que controlava fortemente a circulação de notícias tendo especial atenção ao tema guerra, e, consequentemente, praticante de autocensura. Residia no território onde o conflito deflagrou e noticiou apenas um dos lados da guerra, o lado português, aquele que pessoalmente defendia e aquele que lhe permitia cumprir a missão de reportar com segurança. Através das suas reportagens, destacou o conflito, favorecendo sempre os “heróis” de Portugal (forças armadas portuguesas) em detrimento dos “bandoleiros” (movimentos de libertação) que atacavam o império lusitano que começava no Minho e terminava em Timor. Conquistou a confiança dos militares portugueses e do Estado Novo, regime político que vigorou em Portugal entre 1933 e 1974.
Para traçar o perfil deste soldado-repórter recorreu-se essencialmente à análise de publicações ultramarinas e de recortes da censura e também a entrevistas a profissionais que, na época em causa, trabalharam em meios de comunicação das províncias ultramarinas, sendo um deles o próprio Fernando Farinha, que terminou a sua carreira em Lisboa, ao serviço do jornal Diário de Notícias.
Este retrato de Fernando Farinha insere-se num estudo mais alargado sobre a cobertura jornalística da Guerra Colonial feita pela imprensa portuguesa de Angola, da Guiné Portuguesa e de Moçambique, realçando reportagens e repórteres de guerra da imprensa ultramarina. A presente investigação, financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (referência SFRH/BD/108106/2015), está a ser desenvolvida no âmbito do Doutoramento em Ciências da Comunicação, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio do CIC.Digital – Centro de Investigação em Comunicação, Informação e Cultura Digital.
O espetáculo do futebol: como os jornais desportivos portugueses “contaram” as vitórias do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões (1987 e 2004), foi o título da comunicação que Patrícia Teixeira proferiu em co-autoria.
A Bola, O Jogo e o Record são os periódicos portugueses que, regularmente, nos informam sobre aquilo que acontece no mundo do desporto, tanto a nível nacional como internacional. Sendo o futebol comummente apelidado de desporto-rei, é com naturalidade que as notícias sobre este desporto sejam aquelas que ocupam um maior número de espaço e de páginas nestes jornais. Uma das competições de maior relevo e espetacularidade do futebol é a Liga dos Campeões (LC), sendo que uma vitória nesta competição equivalha ao que popularmente se chame de “cereja no topo do bolo”. O Futebol Clube do Porto (FCP) já venceu por duas vezes esta competição: em 1987 e em 2004. Dezassete anos separam estes dois momentos gloriosos, ambos relatados nas páginas dos jornais que acima se apresentam. Como relataram estes periódicos as vitórias do FCP na LC? Qual dos jornais dedicou mais “papel” no noticiar deste momento? Que comparação pode ser estabelecida entre eles no que à forma de noticiar o acontecimento diz respeito? Os dezassete anos de diferença entre os dois momentos contribuem para que se notem grandes diferenças? E semelhanças, constatam-se? Que evolução se deteta de 1987 para 2004? As maiores conquistadas são relatadas de forma mais emotiva que as notícias do dia-a-dia? O contexto da época terá influenciado o discurso dos periódicos? Que tipo de notícias apresenta cada uma das publicações? Como se distribuíram as notícias longas e curtas, comentadas e não? Como foram recolhidas as primeiras impressões dos intervenientes? Qual ou quais publicação/publicações investiu/investiram mais recursos humanos para fazer a cobertura jornalística do evento? Que tipo de imagens acompanharam os texto? É nestas e em perguntas como estas que se encontra a razão de ser deste estudo que tem por objetivo central descrever e comparar o discurso dos três periódicos desportivos portugueses – o objeto – no momento de relatar as duas vitórias do FCP na LC (28-05-1987 e 27-05-2004), sendo que, para o estudo em causa, foram apenas considerados os números publicados imediatamente a seguir ao acontecimento. Assim, procedeu-se à leitura integral dos seis números em questão, bem como ao levantamento de todas as peças publicadas nos periódicos na data referida, bem como das imagens que as acompanham, que dizem respeito ao acontecimento, e procurou perceber-se quais as razões para o seu comportamento discursivo. Para a realização desta investigação, procedeu-se a uma análise quantitativa (análise de conteúdo), efetuada com recurso a categorias definidas à priori, de forma a emprestar mais sistematicidade ao trabalho. Foram também escolhidos alguns exemplos para ilustrar as tendências discursivas detetadas em A Bola, O Jogo e Record. Apesar de este ser um estudo em iniciação e numa fase ainda exploratória, o que não permite adiantar grandes conclusões com pena de serem resultados pouco fiáveis, é já possível afirmar que o destaque dado a este acontecimento foi, de facto, enorme nas três publicações periódicas desportivas e nos dois períodos temporais em questão. Todas elas prepararam a cobertura jornalística do badalado e importante evento desportivo com o devido cuidado e atenção que merecia e enviaram diversos colaboradores para o palco onde tudo aconteceu. Também já é possível perceber que entre os dois períodos temporais há diferenças notórias na forma de apresentar as notícias, como seria expectável dadas as mudanças e a evolução que o jornalismo vem sofrendo.
O objeto de estudo da comunicação de Helena Lima (docente e investigadora do CIC.Digital) foi a ”Informação e espetáculo na morte de Salazar. Estratégias discursivas da imprensa portuguesa”.
Do ponto de vista do jornalismo, a morte é um valor central, na medida em que ela se enquadra no campo dos acontecimentos dramáticos que constituem a essência da história jornalística (Golding, Elliott, 1988). De acordo com Sutton (2005), a morte, enquanto acontecimento brutal e inesperado, é suscetível de se transformar em notícia e se a esta valoração se acrescentar ainda o fator proeminência, quando se reporta a uma figura pública a sua valoração é evidente. A morte de um estadista configura um acontecimento jornalístico de topo da hierarquia noticiosa, que configura um conjunto de critérios que vão ao encontro dos valores-notícia (Hanusch 2010; Seaton 2005; Walter), mas que pode ainda ser entendida como informação-espetáculo, pelo ambiente emocional que é criado. A imprensa está, dada esta conceptualização, repleta de notícias onde a temática da morte é central, mas em regra associada a outros aspetos entendidos como critérios de noticiabilidade, como violência, desastres ou factos que de alguma forma nos são dados a conhecer através de relatos melodramáticos. No caso das grandes figuras públicas, a organização da máquina noticiosa permite ao público uma participação indireta, através da forma como constrói a composição jornalística. As narrativas têm uma capacidade informativa que remete para a factualidade, mas simultaneamente podem transmitir uma carga emocional, que decorre do próprio acontecimento, mas que pode ainda ser enfatizada pela composição e pela adjetivação do discurso. A morte das figuras públicas tem sido particularmente estudada, à luz das grandes transmissões televisivas ou colocando a enfase na cobertura imagística. (Dayan, Katz, 1999; Mesquita, 2003). A análise de discurso sobre a morte de personalidades da elite não se tem debruçado tanto na narrativa textual, sendo a composição da imagem um dos aspetos mais relevantes da construção da mediática. Contudo, o ambiente emocional é parte da estratégia textual dos jornais, contribuindo assim para um ambiente de informação-espetáculo onde o leitor é convidado a participar. A morte de António Oliveira Salazar corresponde a um desses processos de um ambiente construído, em que a imprensa portuguesa contribuiu, para a criação de modelos discursivos-tipo que contribuíram, de acordo com Fernandes (2013), para efeitos de sacralização e mitificação, presentes também em elementos visuais. A morte de Salazar pode ser vista á luz de dois momentos de informação-espetáculo distintos, na perspetiva da veiculação de dois dos principais processos de mitificação do ditador. As cerimónias fúnebres sumptuárias descritas na imprensa e que correspondem às honras prestadas ao estadista, em Lisboa, remetem para o ideal construído de salvador da pátria.
Mais informações: https://xvcongressoahc2017.up.pt